‘Se eu me debatesse, eles poderiam me dar um tiro': a história da advogada presa durante audiência

Antes de ser advogada, Valéria foi jogadora de basquete no Brasil e nos EUA.
Foto: Arquivo pessoal
Todo advogado negro é vítima de racismo, mas muitos não falam nada. E, até ser algemada e arrastada na frente da minha cliente, enquanto tentava exercer a minha profissão, eu passei por várias violações ao longo da minha vida. Desde o primeiro dia de aula.
Logo que entrei na faculdade, um professor, procurador de Justiça, disse:
– Puta que pariu. Agora a gente vai ter que entubar esses analfabetos funcionais do Prouni.
E adivinha: eu era Prouni. Na redação, fiz 89 pontos de 100. Mas não adiantou. Para um advogado negro, o racismo começa no primeiro dia de aula.
Ao longo da graduação, sempre me destaquei dos meus colegas de turma: enquanto eles voltavam do escritório dos pais, eu voltava do trabalho de cuidadora de idosos. Durante todo o curso, fui alvo de piadas racistas dos professores e colegas, que perguntavam “de qual macumba eu estava voltando”, por conta das vestimentas que o trabalho exigia. Nunca revidei: se o advogado branco falar rígido, é uma pessoa séria, de respeito. Se eu fizer o mesmo, sou a louca, a raivosa.
Das quadras aos tribunais
Foi um longo caminho até me tornar advogada: passei por mudanças nos lugares onde vivi, nos cursos e nas profissões que decidi seguir. Só entrei para o Direito aos 40 anos.
Sou cria da Chatuba de Mesquita, bairro do município de Nilópolis, na Baixada Fluminense, mas nasci em Botafogo, na zona sul no Rio de Janeiro. Filha de caminhoneiro e dona de casa, minha vida foi marcada por migrações frequentes, por conta do trabalho do meu pai. Mesmo assim, tive uma infância saudável, resultado de uma família que entendia a importância de me incentivar a estudar e praticar esportes.
Aos 11 anos, saímos de Miguel Pereira, município do centro-sul fluminense, para morar em São Paulo. Lá, meus pais me matricularam em uma escola pública onde todos os alunos jogavam basquete. Menos eu. Embora tivesse porte para jogadora — sempre fui mais alta que a média da minha idade —, eu nunca havia tido a oportunidade de pisar numa quadra, já que para jogar, precisa de uniforme e tênis apropriados, o que custa caro.
Mesmo assim, um dia meus amigos me levaram para assistir ao treino do time da escola. E foi ali que me apaixonei pelo basquete. Desse dia até eu me tornar mãe, foram 18 anos de dedicação ao esporte.
Minha carreira no basquete começou no município de Atibaia, em São Paulo, onde joguei por dois anos. Mas, por conta do trabalho do meu pai, precisamos voltar para o Rio de Janeiro. Fiquei um período sem competir, porque não conhecia os times da cidade, então uma conhecida me chamou para jogar em um time de Nova Iguaçu, onde fui descoberta por um olheiro do América, que me ofereceu uma bolsa de estudos. Lá, joguei até os 17 anos, quando dois outros olheiros me viram em quadra e me ofereceram uma bolsa pra jogar em Santa Catarina.
As pessoas brancas tratam o esporte como se fosse o lugar de fala do negro.
Apesar de ter jogado no Sul, região que tem um histórico racista, quando você está no esporte e joga bem, vão te “proteger” do racismo. Ocorrem casos, mas a equipe técnica abafa: “aquele ali você não pode xingar de macaco porque eu preciso dele pra jogar”.
Além disso, embora o basquete seja elitista, as pessoas brancas tratam o esporte como se fosse o lugar de fala do negro. Elas acham que nós nascemos para jogar. Mas só para jogar. Então, mesmo sabendo do racismo, não tive grandes problemas ao longo do tempo que segui minha carreira no Sul.
Depois de anos morando em repúblicas e vivendo pelo basquete, meus pais me pressionaram para cursar a graduação, já que apenas o esporte não garantiria estabilidade financeira. Prestei vestibular para a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e entrei para o curso de Educação Física, onde montei um time feminino de basquete.
Entre as competições que participamos, uma mudou a minha vida: foi no campeonato universitário em Fortaleza que um olheiro americano se interessou pelo meu desempenho em quadra e me ofereceu uma bolsa de estudos. Naquele ano, em 1995, eu tranquei a graduação no Brasil e, aos 24 anos, fui estudar na Oral Roberts University, universidade cristã que fica em Tulsa, Oklahoma.
Mesmo sendo boa, eu não era destaque no país onde os jogadores são vistos como números de cestas, então precisei me virar para aparecer e fazer meu nome. Comecei pegando rebotes e, ao longo do tempo, fui aparecendo para os americanos, até me tornar a 16ª melhor pivô da National League of Basketball. Meu plano era tentar a liga profissional, mas aos 29 anos me tornei mãe e escolhi viver essa vida.
Nessa nova fase, decidi cursar Enfermagem — eu tinha gosto por tratar de pessoas —, então fiz a especialização e trabalhei na área da saúde. Até voltar para o Brasil. Em 2005, retornei com meus dois filhos, Vitor e Carlos, para cuidar da minha mãe que estava doente. Para levantar um dinheiro, fiz o curso técnico novamente, já que validar o diploma daria mais trabalho, mas desisti de trabalhar como enfermeira porque o sistema de saúde no Brasil é deprimente. Então, já que sempre fui muito contestadora, aos 40 anos, escolhi cursar Direito.
‘Para um advogado negro, o racismo começa no primeiro dia de aula’
Prestei vestibular para a Universidade Veiga de Almeida e passei com louvor. Depois de ser recebida com a frase do professor sobre ser uma “analfabeta do Prouni”, tive que lidar com outros obstáculos do curso. O horário também era um problema. Era comum que eu chegasse atrasada, porque cuidava de um senhor que pagava bem pela hora-extra, então, já que eu precisava desse dinheiro, ficava até mais tarde. Mas um dia, cansada de chegar após o início da aula, pedi para que a professora considerasse o meu atraso. Em resposta, ela me orientou a cursar graduações que “se adaptam à minha realidade”.
A partir desse dia, eu entendi o recado. Eles não querem que estejamos nesses espaços, então fazem de tudo para desmotivar o aluno pobre. Naquele momento eu não respondi nada, só agradeci pela dica. A resposta foi quando eu passei na prova da OAB, um ano antes de me formar na graduação. Só depois de passar na prova da OAB que começaram a me tratar como igual.
Eles não querem que estejamos nesses espaços, então fazem de tudo para desmotivar o aluno pobre.
Da faculdade pra cá, eu só tenho dois anos como advogada, mas já passei por muitas violações. E foi no dia 10 de setembro de 2018 que assinei a minha liberdade.
Assim que entrei na sala do 3º Juizado Especial Cível, em Duque de Caxias, percebi o olhar racista dos colegas de profissão. Então a juíza já soltou a primeira pérola perguntando se eu e minha cliente éramos irmãs. Poderíamos ser, mas não respondi porque a pergunta não foi apropriada. Era uma audiência de conciliação para resolver a cobrança indevida de uma companhia telefônica.
Apesar de sentir que a juíza agia de maneira rude comigo, a audiência corria até que a doutora Ethel Tavares de Vasconcelos se recusou a abrir a contestação. Sabendo dos meus direitos, perguntei se havia um delegado de prerrogativas para registrar essa violação, mas não havia.
Fui até a sala da OAB para solicitar um delegado e, quando eu voltei, a juíza disse que a audiência estava encerrada. Mas ela não havia cumprido com os procedimentos básicos, então me recusei a sair da sala enquanto não lesse o documento, porque se eu não me defendesse ali, eu não ia defender o direito de ninguém.

Valéria foi encaminhada à delegacia por “crime de resistência”. Ela questionou os procedimentos de uma juíza leiga numa audiência.
Foto: Arquivo pessoal
‘Veio um de cada lado, me deram uma rasteira e me arrastaram pelo chão’
Enquanto eu esperava pelo delegado de prerrogativas, a juíza chamou a polícia, que já chegou com truculência. Eles disseram que eu deveria sair, mas neguei. Então veio um de cada lado, me deram uma rasteira, me algemaram e arrastaram pelo chão. Eu fui deixando eles me levarem, porque se eu me debatesse, eles teriam motivo pra me dar um tiro. Eles falariam que dei motivo, que tentei pegar a arma.
A todo momento me mantive calma, mesmo ouvindo dos próprios advogados que eu estava errada — por exigir o meu direito. Fui encaminhada à delegacia para ser autuada pelo crime de resistência. Dizem que o crime de resistência é bom para o currículo do advogado combativo, mas foi horrível naquele momento porque eu não tinha consciência que tinha sofrido discriminação racial.
O direito não está na minha vida para defender só os casos, mas ideias.
A todo momento falavam que era racismo, mas eu não entendia. Então, quando a Ordem dos Advogados do Brasil me chamou para participar da coletiva, eu não queria jogar para a questão racial porque iam falar que eu estava me vitimizando: em vez disso, falei que houve uma violação da minha prerrogativa, porque a juíza não me deixou ter acesso aos documentos. Eu achava inapropriado falar sobre o ocorrido, porque a OAB prega que advogado tem que ter postura e usar de urbanidade.
A ficha de que foi racismo só caiu quando fui à Bahia. Eu sentei com mulheres que me mostraram o que eu precisava ler para entender que foi racismo, então li Ana Maria Gonçalves, Djamila Ribeiro, Carla Akotirene, Chimamanda Ngozi… e lá eu entendi. Com essas leituras eu entendi que existe uma Constituição, mas ela não é aplicada ao povo negro. Eu, na qualidade de advogada, não poderia ser algemada na audiência porque a lei proíbe. Um banqueiro não é algemado porque isso “fere a honra” dele. Para os mais pobres, a humilhação é constante. Em menos de 30 segundos depois que eu disse que não sairia da sala, fui algemada.
Apesar de ter vencido o caso da companhia telefônica, a justiça concluiu que não houve irregularidade na atuação da juíza leiga. O próprio Judiciário disse que ela agiu correto e que os policiais também acertaram em me algemar porque eu estava colocando em risco as outras pessoas. Mas eu não estava armada e não agredi ninguém. Eles falaram que eu me debati, mas não provaram. Eles falaram que me joguei ao chão, mas não provaram. Eu tenho como provar que me algemaram.
Não concordo com a decisão porque tive o meu direito violado, então o caso deixou de ser uma questão jurídica e passou a ser ideológica. O direito não está na minha vida para defender só os casos, mas ideias, então é isso que vou fazer, mesmo sendo difícil.
É difícil porque na OAB, por exemplo, tem poucas mulheres negras. E, muitas das vezes, quem está lá é pressionado para não falar sobre questões raciais. Mesmo assim, nunca deixo de tocar nessa questão e fazer a minha parte para aumentar a representatividade de mulheres negras na casa do povo. Hoje, atuo no escritório que inaugurei há pouco menos de um ano e desempenho um trabalho voltado para auxiliar vítimas de discriminação. Estamos na luta, não vamos desistir.
Atualização, 22/11, 11h41: Depois da publicação do texto, a Universidade Veiga de Almeida (UVA) enviou ao The Intercept o seguinte posicionamento sobre a denúncia de Valéria: A Universidade Veiga de Almeida repudia qualquer comportamento ou ato racista e/ou discriminatório por parte dos alunos, professores e funcionários técnicos administrativos. A UVA mantém diversos canais para receber denúncias de discriminação, como o Portal do Aluno e a Ouvidoria, e ainda um Núcleo de Diversidade, que tem a função de estimular um ambiente inclusivo e livre de preconceito. A Veiga irá apurar o episódio mencionado pela advogada Valéria Santos caso a ex-aluna decida fazer uma denúncia em nossos canais.
ANTES QUE VOCÊ SAIA… Quando Jair Bolsonaro foi eleito, sabíamos que seria preciso ampliar nossa cobertura, fazer reportagens ainda mais contundentes e financiar investigações mais profundas. Essa foi a missão que abraçamos com o objetivo de enfrentar esse período marcado por constantes ameaças à liberdade de imprensa e à democracia.
Para isso, fizemos um chamado aos nossos leitores e a resposta foi imediata. Se você acompanha a cobertura do TIB, sabe o que conseguimos publicar graças à incrível generosidade de mais de 11 mil apoiadores. Sem a ajuda deles não teríamos investigado o governo ou exposto a corrupção do judiciário. Quantas práticas ilegais, injustas e violentas permaneceriam ocultas sem o trabalho dos nossos jornalistas?
Este é um agradecimento à comunidade do Intercept Brasil e um convite para que você se junte a ela hoje. Seu apoio é muito importante neste momento crítico. Nós precisamos fazer ainda mais e prometemos não te decepcionar.Faça parte do TIB
Para isso, fizemos um chamado aos nossos leitores e a resposta foi imediata. Se você acompanha a cobertura do TIB, sabe o que conseguimos publicar graças à incrível generosidade de mais de 11 mil apoiadores. Sem a ajuda deles não teríamos investigado o governo ou exposto a corrupção do judiciário. Quantas práticas ilegais, injustas e violentas permaneceriam ocultas sem o trabalho dos nossos jornalistas?
Este é um agradecimento à comunidade do Intercept Brasil e um convite para que você se junte a ela hoje. Seu apoio é muito importante neste momento crítico. Nós precisamos fazer ainda mais e prometemos não te decepcionar.Faça parte do TIB






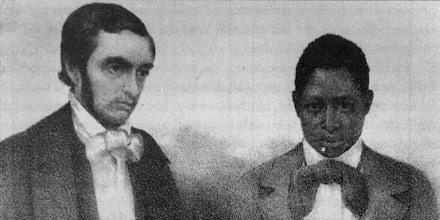
Sem comentários:
Enviar um comentário