Início da subversão violenta na África portuguesa (i)
Escrito por Silva Cunha
«A expressão "guerra de guerrilha" entrou no léxico moderno durante as Guerras Napoleónicas. Significa o emprego ou utilização no fenómeno violento da técnica ou método de guerrilha.
Segundo a definição de Samuel Huntington, a "guerra de guerrilha" é uma forma de guerra na qual o contendor estrategicamente mais fraco assume tacticamente a ofensiva através do emprego da iniciativa sob as mais diversas formas, e nas diferentes dimensões do espaço e do tempo. A guerrilha é a arma dos fracos. Só é escolhida quando as possibilidades de sucesso no travar de uma guerra dita regular são diminutas (Osanka [Ed], 1962, p. 379).
É normalmente empregue por pequenos grupos de forças irregulares que combatem um Exército invasor; por um dos contendores (o mais fraco) como meio suplementar de guerra convencional, tida como aquela que utiliza técnica/táctica ou métodos convencionais; e nos estágios preliminares de uma guerra "revolucionária" que visa a deposição da autoridade política vigente.
Clausewitz via a "guerra de guerrilha" como uma componente auxiliar da guerra convencional, cujos efectivos não deveriam ser empregues no combate directo contra o "núcleo duro do inimigo", mas no "desbaste das suas arestas". As suas operações militares deveriam centrar-se em pontos previamente determinados ao longo dos flancos do dispositivo inimigo para evitar a sua destruição (Clausewitz, 1984, pp. 480-482).
Jomini também inseriu a "guerra de guerrilha" no interior da matriz das insurreições nacionais contra um Exército invasor. Na sua perspectiva, a missão das forças invasoras seria consideravelmente dificultada se a insurreição popular fosse apoiada por um núcleo de tropas disciplinadas, sem a existência do qual a insurreição acabaria por ser suprimida.
Também Karl Marx e Friedrich Engels viram as operações da guerrilha como adjuntas das operações convencionais. Num respigar da História, Marx notou que os grupos de guerrilheiros foram quase sempre bem sucedidos quando se mantiveram em pequeno número. Já Engels não previu um futuro risonho para a "guerra de guerrilha", a não ser que esta conseguisse arregimentar o apoio da população para a sua causa (Laqueur, 1986, pp. 142-145).
 |
| Thomas Edward Lawrence |
T. E. Lawrence articulou conceptualmente que a guerrilha poderia ser bem sucedida se aplicasse operacionalmente determinados princípios que a tornariam uma ciência exacta. Para Lawrence, as condições propícias para a provável obtenção de sucesso, passavam pela construção e/ou existência de uma base que fosse inexpugnável, face a um oponente cuja realidade primava por um Exército com capacidades limitadas de controlo de determinado território e uma população apoiante da causa dos guerrilheiros.
Nas circunstâncias, a guerrilha necessitava era de velocidade e perseverança, linhas de apoio logístico autónomas, bem como de armamento e equipamento capaz de paralisar as linhas de comunicação do adversário turco. Na óptica da estratégia operacional, o alcance e a velocidade eram mais importantes do que a dimensão política das acções levadas a cabo pela "guerrilha".
Esta dimensão política já havia sido anteriormente aflorada aquando das doutrinas revolucionárias do século dezanove por radicais italianos e polacos, que discutiram a "guerra de guerrilha" no contexto de uma estratégia político-militar de libertação e de unificação nacionais. Estas perspectivas foram posteriormente aperfeiçoadas noutros estudos de radicais e militares italianos.
Quanto a Lenine, apesar do sucesso da Revolução Russa, os seus escritos pré-revolução contemplavam a condução de uma luta de atrição organizada e controlada politicamente pelo Partido Comunista. O combate, na sua perspectiva, assumiria várias formas: terror selectivo, através da execução de assassinatos, confiscação de bens e propriedades estatais e privadas, manifestações populares, greves e confrontos de rua.
A "guerra de guerrilha" seria uma forma inevitável de condução do combate numa fase em que o movimento de massas tivesse atingido um ponto tal, que fosse propício ao desencadeamento de uma insurreição geral. No entanto teria de estar sempre subordinada a outros métodos e ser pautada pelos princípios operativos do socialismo (Laqueur, 1978, pp. 172-178).
 |
| Revolução Cultural Chinesa |
 |
| Reforma agrária chinesa |
Para Mao Zedong, o conceito de revolução assentava em três princípios: o papel decisivo das forças militares; a importância das bases de guerrilha em áreas rurais; e o carácter de atrição do combate. A "guerra de guerrilha" era uma componente importante da sua doutrina operacional, mas não era o único aspecto da luta revolucionária; por si só, não significava a obtenção do sucesso total.
Não era um fim em si e, como tal, não podia ser divorciada das operações militares das forças regulares. Ainda que pudesse assumir temporariamente uma maior importância no contexto da guerra popular, globalmente falando, as forças regulares eram primordiais tendo um papel fulcral na estratégia militar.
A "guerra de guerrilha" de acordo com a conceptualização Maoísta era apenas uma das três fases interactuantes da luta revolucionária. Genericamente, na sua óptica, as insurreições eram um fenómeno típico dos países subdesenvolvidos e contemplavam três fases:
- agitação e proselitismo das massas populares, incluindo a criação de um Partido (fase de contenção);
- violência aberta, operações de guerrilha e estabelecimento de bases (fase de equilíbrio estratégico);
- guerra móvel, convencional, com grandes unidades de forças insurrectas contra forças governamentais com o objectivo de depor o governo (fase da contra-ofensiva). Durante esta fase, as acções militares respeitantes à suas fases anteriores continuam a ser conduzidas.
(...) Segundo Henry Kissinger, "[No Vietname] travámos um combate militar; os nossos oponentes uma guerra política. Procurámos a sua atrição física; eles a nossa exaustão psicológica: No processo, perdemos a referência cardinal da guerra de guerrilha: a de que a guerrilha vence se não perder e o Exército convencional perde se não vencer" (Mach, 1975, pp. 184 e 185)».
Carlos Manuel Mendes Dias e Alexandre Carriço («Vo Nguyen GIAP«).
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver vídeos 1 e 2 |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
 |
| Ver aqui |
«A China é um imenso império e, no fim da Segunda Guerra Mundial, uma grande parte do país estava nas mãos dos senhores da guerra. Chiang-Kai-Shek estava ocupado em empurrar este enorme continente para uma forma republicana de governo. Mao Tsé-Tung era o chefe de um bando de revolucionários e um fantoche nas mãos de Estaline. Nenhum governo é perfeito; o de Chiang não o era mas era infinitamente preferível ao das criaturas de Estaline.
Além disso, o governo nacionalista era chinês e não dependia de um outro país. De resto, Chiang-Kai-Shek era um homem de carácter animado por uma nobre missão. O seu propósito era o de talhar o seu país no modelo americano. Era este o interesse dos homens livres em todo o mundo e dos que aspiravam ajudar o chefe nacionalista. E contudo trabalhou-se de outra maneira. O auxílio americano deu proveito somente aos comunistas e absolutamente nada a Chiang-Kai-Shek. O general G. Marshal gabou-se na época de ter, de uma só penada, desarmado o chefe nacionalista. Tão inacreditável e espantoso que isto pareça, foram os exércitos americanos que enxotaram Chiang-Kai-Shek do continente chinês e obrigaram-no a refugiar-se na Formosa.
O governo de Chiang tinha sido admitido na ONU como membro e foi sempre reconhecido como tal. Quando o chefe da China nacionalista se instalou na Formosa, os Estados Unidos assinaram com ele um acordo solene, estipulando que a América defenderia militarmente a sua independência e que todos os refugiados que a ilha pudesse acolher seriam ajudados a submeter-se-lhe. Taiwan ocupa a segunda posição depois do Japão pelo seu alto nível de vida na Ásia.
Que o leitor nunca perca de vista que a ideia dominante dos "Iniciados" é a sujeição do mundo inteiro. A ONU foi estruturada com o fim de se transformar no núcleo deste governo mundial ou ditadura universal. Sendo assim, os iniciados não podiam permitir que a pequena ilha Formosa se tornasse no representante legítimo do povo chinês; por isso devia ser encontrado um meio para expulsá-la e colocar em seu lugar as criaturas de Estaline nas Nações Unidas. A pequena Irlanda foi logo convidada a entrar na ONU, isto é, os 26 condados do Eire, que se pretendem livres... Quando se observa hoje o destino de todos os países atrás da Cortina de Ferro, do Afeganistão, da Indochina, do Cambodja, da África ex-portuguesa, todos os irlandeses deveriam morrer de vergonha com a ideia de que foi o nosso embaixador na ONU que, durante anos, formulou a mesma pergunta em cada sessão: "Quando é que a China Vermelha será admitida na sala?" Ano após ano a proposta foi repelida, toda a gente sabia que um dia, quando o momento fosse oportuno, tudo seria regularizado. E os "Iniciados" triunfariam uma vez mais...
 |
| Chiang Kai-Shek |
 |
| Chiang Kai-Shek, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill e Madame Chiang na Conferência do Cairo (23 de Novembro de 1943) |
 |
| Richard Nixon cumprimenta o 'primeiro-ministro' chinês Zhou Enlai após a sua chegada a Pequim (1972) |
 |
| Emblema da República Popular da China |
 |
| Mao Tsé-Tung e Richard Nixon |
Chegamos agora à época de R. Nixon na construção deste puzzle em que todos os pedaços devem encontrar o seu lugar para formar um mundo comunista dominado pelos mundialistas. O moço de recados número um dos "Iniciados" chamou-se Henry Kissinger. Foi enviado para a China Popular onde o tapete vermelho se desenrolou em sua honra. Durante este mesmo lapso de tempo David Rockefeller, que é presidente do Chase Manhattan Bank, vai visitar os chineses. Também ele tem direito ao tapete vermelho e aos ramos de flores. Acenos de cabeça e piscadelas foram trocados e em dois tempos três manobras, a China Vermelha entrava nas Nações Unidas e a China nacionalista era expulsa dela. Pertencer a esta Torre de Babel não é uma honra, longe disso. Todo o país respeitável devia retirar-se o mais rapidamente possível.
Durante o mandato de Carter na Casa Branca, os americanos médios aperceberam-se, com assombro, que Jimmy "que nunca mentia" trabalhava com muito mais ardor para a expansão do comunismo do que qualquer militante do PC, por isso foi varrido do seu assento. Mas o mundo teme menos os comunistas sob a presidência de Reagan? Ele aceitou vender armas à China Vermelha. Porque desejam os comunistas tantas armas se estas não lhes servem para marxizar o mundo inteiro? A Inglaterra também decidiu vender à China Popular os motores de avião Rolls Royce. Quando Reagan foi eleito, um comentador fez notar que o cowboy tinha sido impelido para o recinto dos gados sem saber o que se tinha passado.
Vendendo material de guerra à China, a América não apresentou nenhuma cláusula restritiva na sua convenção cláusula que teria proibido que estas armas fossem empregadas contra a Formosa, que os Estados Unidos se tinham comprometido a proteger contra toda a agressão militar. Qual o destino da pequena ilha (cuja população, 17 milhões de habitantes, em mais de metade, é constituída por refugiados) em caso de invasão?
(...) Em 1960, Sir Harold Macmillan, Primeiro-Ministro da Grã-Bretanha, fez uma viagem relâmpago à maioria dos países africanos; após o que fez o seu famoso discurso "O vento da mudança", na Cidade do Cabo. Informou a terra inteira que os povos negros da África estavam prestes a libertar-se dos entraves da colonização e emergiriam como nações livres e independentes. Sir Macmillan parecia ser assaz bom profeta porque pouco tempo depois, uma após outra, as colónias transformaram-se em nações pretensamente livres e independentes, cada uma sujeita aos aprestos do parlamentarismo, cada uma com um grupo de chefes eleitos na base de um homem um voto. O que Sir Macmillan não disse ao mundo é que o poder que transformou a África não era outro senão uma invasão plutocrática de um novo género, por outras palavras, um colonialismo económico que substituiu a verdadeira colonização.
 |
| Harold Macmillan |
 |
| República Democrática do Congo (ex-Congo Belga) |
 |
| Brasão de Armas da RDC ou Congo-Kinshasa |
 |
| Biafra |
 |
| Ruanda |
 |
| Burundi |
 |
| Vanuatu |
O resultado deste "vento de mudança" é que a África se tornou em poucos anos numa das regiões do mundo mais miseráveis onde milhões de pessoas vivem sob a ameaça da fome, da doença, das guerras tribais e atormentadas pelo problema gigantesco dos refugiados. Novas fronteiras foram traçadas, abrangendo, com frequência, diferentes etnias, cada uma com a sua própria língua e o seu direito consuetudinário. Esta fragmentação, por vezes em duas ou três partes, processou-se sem a menor consulta às populações.
Quando os próprios indígenas tentaram rectificar estas fronteiras artificiais, aprenderam rapidamente, às suas custas, quanto eram "livres". O Catanga, província do tamanho de um país europeu, quis separar-se do Congo ex-Belga (ontem Zaire, hoje, República Democrática do Congo). E foram as forças das Nações Unidas que se encarregaram de chamar à ordem os catangueses, obrigando-os a reintegrarem-se no Congo. Quando o Biafra tentou separar-se do resto da Nigéria, a Grã-Bretanha e a União Soviética uniram-se para esmagar essa pretensão.
Porque se conduzem deste modo os Iniciados-Conspiradores? Porque desejariam que as estruturas administrativas do antigo domínio colonial ficassem no sítio, mas o poder seria transferido para as mãos débeis dos regimes locais, tão frágeis e tão precários que não teriam nenhuma dificuldade em dominá-los. Deste modo, as fontes naturais da África e mesmo a suas populações têm podido ser "exploradas" muito mais facilmente do que se os antigos colonizadores tivessem ficado. O que foi "libertado" não foi o povo africano mas as suas riquezas de que se apoderaram os "Iniciados". Da mesma maneira que Henrique VIII e os seus fiéis cobiçavam as riquezas dos mosteiros, os mundialistas cobiçavam o ouro, os diamantes e outras riquezas de África.
Um governo mundial é o seu único objectivo e as Nações Unidas a origem do governo futuro; os polichinelos negros foram escolhidos para representar os seus povos, cada qual com uma voz na ONU. Estados minúsculos como o Ruanda e o Burundi têm cada um uma voz e outros estados-imitação no mundo como Vanuatu (91 000 habitantes) ajudam a votar no sentido desejado pelos "Iniciados".
Cuba enviou milhares de soldados para África aparelhados pela URSS. Os "Iniciados-Conspiradores poderiam deter este movimento em 24 horas se o desejassem. Mas tudo se desenvolve segundo os planos previstos; os seus planos».
Deirdre Manifold («Fátima e a Grande Conspiração»).
«Nos recuados anos 30, Salazar tinha dado o alarme e iniciado uma guerra sem quartel ao comunismo internacional porque, como afirmava, se tratava duma estratégia para impor aos outros povos, não uma filosofia política libertadora, mas aquele comunismo que nós vivemos no século XX que levou a uma repressão sistemática, ao ponto de adoptar, em momentos de paroxismo, o terror como modo de governo.
Foi a este comunismo que Salazar, quando converteu a PVDE (Polícia de Vigilância e Defesa do Estado) em PIDE (Polícia Internacional de Defesa do Estado) declarou guerra, uma guerra sem tréguas, que na sua acção no terreno não deixou de cometer erros, distorções, abusos de força, aos quais nos dias de hoje se dá um empolamento muito especial para condenar toda uma instituição que também teve os seus méritos e constituiu um sério obstáculo à introdução duma ideologia desumana e que hoje sabemos ter [aparentemente] claudicado. Pacheco Pereira, no prefácio que escreveu em O Livro Negro do Comunismo afirma, a propósito de um balanço da ordem dos cem milhões de mortos vítimas do comunismo no século XX: "E depois tudo se pode dizer do PCP menos que não sabia, porque se há coisa em que o PCP se especializou foi em saber. E o PCP sempre soube de tudo. Soube das purgas, do Grande Terror, dos processos, dos massacres e deportações de guerra, das execuções, dos desaparecimentos, do que acontecia em África, em Angola, Guiné e Moçambique. A tentativa de apresentar o PCP como um partido periférico e isolado, fora do movimento do comunismo internacional até ao início da década de 50, logo sem experiência do estalinismo, não tem nenhum fundamento". Depois Pacheco Pereira afirma que o PCP, como um partido periférico, estava lá, na Rússia de Estaline, antes de 1936, e que os nossos comunistas fechavam os olhos ao clima de terror que Stéphane Courtois teve a coragem de desmascarar, concluindo assim: "não é de arqueologia que falamos, mas também dos dias de hoje. O PCP com os Soviéticos sabe tudo o que aconteceu em Angola - onde foi instrumental nos acontecimentos". Mas também Anthony Burton (...) fez um estudo da ameaça da propaganda e da subversão soviética contra as Forças Armadas do Ocidente. Ao tratar do caso de Portugal confirma que o PCP, já na década de 30, quando nasceu a PIDE, estava perfeitamente a par das intenções dos sovietes sob a batuta de Estaline, escrevendo: "Os planos para a tomada do poder em Portugal pelos comunistas foram elaborados há 40 anos e têm sido, desde então, modificados e aperfeiçoados em Moscovo".
Cunhal foi o elemento escolhido para secretário-geral do partido comunista, um inteligente e dedicado membro do partido de há muito, que passou bastantes anos exilado em Praga. Aí, ele treinou um corpo especial de talvez mais de 300 homens. Alguns foram treinados durante mais de oito anos e aprenderam a falar português fluentemente. Foram instruídos em comunicações, sabotagem, propaganda, serviço de informações e, especialmente, em organização. Como raça, os portugueses são muito maus organizadores e Cunhal sabia-o. Uma semana após o regresso do secretário-geral do PCP a Portugal, o primeiro contingente dessa equipa chegou, por via aérea, de Praga. Esses homens disseminaram-se pelo país como organizadores de células locais; organizadores para a conquista das autoridades regionais; organizadores de sovietes de trabalhadores nas fábricas, nos bancos, na indústria e na agricultura; e também de um serviço especial de informação, subordinado directamente a Cunhal. Foram extremamente eficazes.
Burton afirma que os planos elaborados em Moscovo, nos anos trinta, para a tomada do poder em Portugal, foram sendo sucessivamente modificados e aperfeiçoados. Esta evolução deve-se essencialmente à eficácia da PIDE na perseguição que moveu aos comunistas e filo-comunistas, e igualmente aos sucessos alcançados pelos nossos militares na guerra do Ultramar, com especial ênfase em Angola, mas também nos outros dois teatros, mesmo na Guiné.
Portugal não era o único objectivo da estratégia soviética na Europa, embora as suas possessões ultramarinas lhe conferissem uma importância especial. Após ter assegurado a tomada do poder pelos comunistas nos países satélites através de golpes de força, como aconteceu na Polónia e muito especialmente na Checoslováquia em 1948 com o célebre golpe de Praga, prossegue na política definida por Lenine logo após 1917 e concentra a sua atenção em África envolvendo a Europa pelo Sul e assim mais facilmente estender a sua ideologia a todo o continente europeu.
(...) A 15 de Março [de 1961] acontece o genocídio no Norte de Angola onde são dizimados selvaticamente cerca de sete mil seres humanos (mil brancos e seis mil pretos) pelos guerrilheiros da UPA e, a 8 de Abril, o projectado golpe de estado para afastar Salazar é neutralizado e os seus promotores são removidos das suas funções. Resta saber o que aconteceria se o Presidente do Conselho, Salazar, tivesse acedido à proposta dos EUA: ter-se-ia evitado o genocídio em Angola e o golpe de estado morreria por si? Quanto ao primeiro ponto creio que teria sido muito difícil travar um dispositivo certamente já montado e em movimento para evitar aquela mortandade. Recorde-se que a entrevista teve lugar a 7 de Março e a acção de Angola a 15, isto é, oito dias mais tarde. A complexidade da operação, a inexistência de estruturas de comando e controle, a enormidade da área afectada, leva facilmente à conclusão de que a acção era irreversível. Mas o projecto americano saiu gorado pois, contrariamente ao que tinha acontecido no Congo, os colonos portugueses não debandaram e participaram mesmo nas acções de pacificação conduzidas pelas poucas unidades militares presentes. Salazar não cedeu, mas principalmente o povo português, a velha e sempre nobre alma lusíada, enfrentou de forma resoluta e determinada a situação. Salazar resolve pacificamente a situação interna e as Forças Armadas respondem ao chamamento de "Para Angola, rapidamente e em força".
Com a reconquista da povoação de Nambuangongo, transformada em capital do movimento de guerrilha, o genocídio acabaria por ceder. Mas os dois contendores mantêm as suas estratégias. O MPLA, timidamente, estabelece a sua primeira região político-militar no Quanza Norte, com um insignificante número de guerrilheiros, que se revelaram totalmente inofensivos pelas dificuldades de abastecimento criadas pela UPA/FNLA ou pelas operações desencadeadas pelas forças portuguesas. Também a FNLA, após o impacto inicial, parecia ter entrado num estado de hibernação e refugiara-se nos seus santuários da região dos Dembos, limitando-se a reagir às tentativas de penetração das nossas forças.
É hoje óbvio que não marchámos para Angola para dar guerra aos angolanos, mas tão-só àqueles que, hipocritamente, se arvoraram em defensores dos povos e, ao serviço das superpotências, pretendiam impor naquele território uma nova ordem política que lhes fosse favorável. Dois factores contribuíram significativamente para o êxito nesta primeira fase (cerca de dois anos) do conflito: o querer, a entrega do soldado português e toda a mística que envolveu a sua actuação e a unidade e apoio da retaguarda, onde as poucas e possíveis vozes dissonantes se mantinham mudas e mesmo a chamada oposição ao regime vigente apoiava a nossa reacção ao ataque desencadeado, duma crueldade impensável até pelos próprios promotores que acabaram por perder o seu controlo.
Entretanto, a situação em Angola em finais de 1963, com o MPLA encurralado no Quanza Norte e a FNLA confinada aos seus santuários na região dos Dembos, tinha estabilizado e ter-se-ia assim atingido um primeiro patamar na guerra em Angola. Esta situação não deixaria de agradar aos americanos que, depois de terem perdido a aposta inicial quando tentaram quebrar a unidade nacional relativa à política ultramarina e, indirectamente, apoiaram o desencadear brutal das hostilidades no Norte de Angola, viam que os colonos não tinham fugido como acontecera com os belgas no Congo e que aquele imenso território permanecia na esfera do Ocidente.
Uma segunda fase do conflito pode situar-se no final deste primeiro patamar com a abertura das hostilidades, ainda em 1963, na Guiné e, no ano seguinte, em Moçambique, obrigando assim as forças de contra-subversão a um maior esforço, não só pela sua dispersão por três teatros de operações, mas igualmente por um substancial aumento do seu potencial de combate em meios humanos e materiais.
Sem infraestruturas minimamente adequadas ao novo esforço de guerra, a escassez dos meios humanos, a exiguidade e obsoletismo dos meios materiais, as extensíssimas linhas de apoio logístico não só desde a origem (Portugal) como dentro dos próprios Teatros de Operações (TOs), em especial Angola e Moçambique, tornavam a missão das forças armadas portuguesas indubitavelmente ciclópica. Poucos acreditavam na hipótese de suportarmos tal esforço por muito mais tempo, hipótese em que o "jogador" do Leste apostara porquanto, quer na Guiné, quer em Moçambique, o apoio do "jogador" americano não passava de político ou moral. Mas, estoicamente, íamos cumprindo a missão com o mesmo espírito que sempre tinha pautado toda a nossa história militar.
Mais três anos passaram e em 1966, apesar do esforço exigido à Nação, inacreditavelmente a situação no terreno mantinha-se controlada pelas forças portuguesas. A iniciativa e ímpeto do inimigo externo não tinham sido suficientes para fazer soçobrar o querer e a capacidade da gente lusa. Inicia-se, então, uma terceira fase do conflito com o aparecimento da UNITA e a abertura da frente Leste pelo MPLA em Angola e, em Moçambique, pelo deslocamento da Frelimo para Sul, para a área de Tete, a fim de dispersar os meios concentrados no Norte (Cabo Delgado) e impedir ou dificultar a construção da barragem de Cahora Bassa. Foi uma fase difícil para as nossas forças, só compensada pelo apoio dado pelo recrutamento local e pelo mesmo indomável espírito de missão que, a despeito de tudo, marcou, desde o início, a nossa acção».
GENERAL SILVA CARDOSO («25 DE ABRIL DE 1974. A REVOLUÇÃO DA PERFÍDIA»).
«... As aspirações dos povos africanos não diferem das que ainda hoje constituem os anseios da maioria das sociedades espalhadas por esse mundo fora, e que anseiam libertar-se do ciclo de subdesenvolvimento em que se encontram. Os seus objectivos coincidem, assim, com os problemas de governo dos respectivos países ou territórios; e, como acontece em toda a parte, quando tais problemas não encontram solução, ou quando esta se processa em ritmo mais lento do que aquele que revelam as aspirações dos povos, logo se põem em dúvida, ou seja politicamente em crise, quer as instituições quer a competência da administração. Este fenómeno é tanto mais frequente quanto menor é o grau de cultura da sociedade em questão, o qual, por sua vez, deriva essencialmente do grau de desenvolvimento da economia territorial, pois que a educação e a cultura não as produz a terra nem se colhem das árvores, como fruto espontâneo: conquistam-se pelo trabalho. Parece, assim, que não haverá outra saída do ciclo de subdesenvolvimento que não seja pela via do trabalho dos povos interessados, pois que os programas de educação em massa impostos de fora e oferecidos como dádiva não conseguirão ultrapassar os escolhos de ordem material que se lhes antepõem e que impedem resultados espectaculares. Se esta noção é exacta - e não vejo que nalguma parte do Globo ou nalgum tempo da História tenha sido rebatida - afigura-se que o critério que havia de presidir à evolução africana não deveria desprender-se da necessidade de as responsabilidades da administração estarem entregues aos elementos mais qualificados para as assumirem, com o apoio de uma soberania interessada no progresso do conjunto.
Não se tem entendido assim, porém, defendendo-se antes que a solução dos problemas se encontrará, melhor e mais rapidamente, transferindo as responsabilidades governativas da generalidade dos territórios africanos para os elementos locais, sob a alegação de que as sociedades humanas só se realizam totalmente quando são senhoras absolutas dos seus próprios destinos. A essa teoria deu-se o nome de autodeterminação dos povos e ao movimento nesse sentido atribuíram-se foros de força natural, designando-o de "ventos da história".
Não exporei aqui certas dúvidas, a primeira das quais seria se tal doutrina terá levado suficientemente em conta, na sua aplicação, o que nos parece deveria ter sido a sua principal razão de ser, ou seja, os interesses dos povos; tão-pouco procurarei responder a certas interrogações, tais como as de saber a quem melhor vem aproveitando o vento da mudança e se a doutrina tem sido sempre aplicada ou se a comunidade internacional, pelo contrário, tem assistido inerte a gritantes derrogações do princípio. Limitar-me-ei a expor a nossa opinião.
Nós conhecemos, por contacto directo de longa tradição, o nível e as possibilidades de certas elites africanas e não duvidamos por isso da sua capacidade como elementos dirigentes que, no caso português, o são e têm sido através da História. Mas não julgamos, e a experiência vem confirmando a nossa convicção, que essas elites sejam numericamente suficientes em todos os domínios e em todos os escalões, quer da administração quer da actividade privada - sem a qual aquela não teria objecto nem sentido - para assumir inteiramente sós as complexas funções de um Estado moderno. Que assim é parece pela circunstância de, em certos casos, se estar fazendo uma experiência que a nós se nos afigura contrariar a independência real dos povos: enquanto o governo é entregue aos elementos locais, as empresas e iniciativas de valor económico básico continuam - e é esta a melhor hipótese - a cargo dos que, embora nacionais da antiga potência soberana, passaram agora a ser estrangeiros no país onde servem. Quer-nos parecer, quando despidas das aparências e reduzidas as coisas à sua essência, que estes novos Estados se arriscam a criar por este processo sujeições mais graves do que aquelas de que pretendem libertar-se. Mas por outro lado, onde tal experiência não esteja sendo executada, temos assistido, e receio que viremos a assistir com maior frequência, a retrocessos da vida económica e social e ao retorno de certas práticas incompatíveis com a prosperidade e progresso desejados.
 |
| Oliveira Salazar |
Deve ter-se como incontroverso que tais inconvenientes não resultam da vontade dos nossos dirigentes africanos; e se, como se faz crer, esses são, em todos os casos, os mais habilitados, também não deve provir tal estado de coisas da deficiência das suas qualificações. A justificação, parece-nos, residirá na falta de elementos de apoio com que essas elites contam. E é natural que assim seja, porque um Estado não é constituído apenas por governantes. Um Ministro da Economia, por exemplo, não poderá governar, se não tiver, ao nível dos serviços públicos, os engenheiros, os economistas, os agrónomos, os veterinários, os funcionários de carteira e de campo; e, tendo-os todos, nada terá a dirigir se lhe faltarem os chefes de empresa, os técnicos, os comercialistas e os operários especializados, que na esfera privada mantêm em funcionamento as actividades económicas, isto é, os homens que organizam e dirigem o trabalho. A existência de todas estas camadas populacionais não foi considerada essencial para a formação das novas nações africanas; nós entendemos, porém, que será indispensável para o seu funcionamento e para a sua independência. E como uma economia nacional não se inventa nem improvisa e a preparação profissional é extremamente morosa (como estão a reconhecer mesmo os países economicamente fortes relativamente aos seus planos de desenvolvimento) parece que aos povos considerados se indicou um caminho pelo qual não conseguirão progredir a ritmo compatível com o resto do mundo e, assim, radicarão o seu atraso e comprometerão a sua independência nacional.
A independência das nações africanas tem-se processado, na generalidade dos casos, sobre dois erros que as prejudicarão: o racismo contra o branco e a suposta unidade dos seus povos naquele continente. Esta última suposição tenderá a subordinar o negro ao árabe; o racismo negro tenderá a prescindir de tudo quanto o branco mais progressivo pode levar-lhe em capital, trabalho e cultura. Seria mais assisado substituir o exclusivismo rácico pela colaboração que vimos ser imprescindível. É por isso que nós entendemos que o progresso económico, social e político daqueles territórios só será possível numa base multirracial em que as responsabilidades de direcção em todos os domínios caibam aos mais qualificados e não aos desta ou daquela cor.
Sei sermos acusados de, com esta doutrina, estarmos tentando assegurar o predomínio da raça branca em África, com base, sobretudo, no facto de o nosso multirracialismo não ter ainda reflexo bastante lato na distribuição de responsabilidades nas províncias ultramarinas em África. É certo que estamos ainda longe de atingir o ponto em que poderíamos estar plenamente satisfeitos com as nossas realizações. Mas não pode negar-se que não só é o mais seguro caminho que trilhamos como o progresso dos territórios tende a cobrir a totalidade das respectivas populações, e não sectores privilegiados. Esse progresso é impossível negá-lo, pois que as realizações podem comparar-se, e com vantagem em muitos pontos, às dos outros países africanos. E se os nossos críticos estão seguros de que não é assim, mal se compreende que não tenham aceite a ideia de ser feito um estudo por individualidades de relevo internacional, e sob a égide da Organização das Nações Unidas. Foram infelizmente preferidos os discursos ao exame desapaixonado das realidades em debate, que tinha o nosso apoio.
 |
| Terroristas do MPLA |
 |
| Terroristas da UNITA |
Uma palavra sobre Angola. Estamos sendo vítimas ali de ataques que a princípio pretenderam acobertar-se sob a capa de sublevação das populações ansiosas por não continuarem integradas na Nação Portuguesa. O entusiasmo dos libertadores africanos porém não permitiu ocultar senão por pouco tempo a sua intervenção no recrutamento, financiamento e treino dos elementos estrangeiros que através de Estados limítrofres penetram em Angola. De modo que hoje não pode já afirmar-se que há ali uma revolta de carácter mais ou menos nacionalista, mas que uma guerra é conduzida por vários Estados contra Portugal, num dos seus territórios ultramarinos. Ora, duas coisas se devem ter por certas: a primeira é que, ao atacar-se Angola, não se ataca só Portugal, mas se está pretendendo enfraquecer as posições, e não só estratégicas, de todo o mundo ocidental; a segunda é que os que atacam, os que apoiam, os que ajudam com a sua indiferença, estão a agir contra os verdadeiros interesses das populações de Angola, só com retardar-lhes o desenvolvimento pacífico e com levar ali a semente do antagonismo racial que não existia e é hoje (...) o principal obstáculo ao progresso e bem-estar do continente africano».
Oliveira Salazar («Realidades da Política Portuguesa»).
«Uma das questões que tem ocupado as minhas reflexões é saber qual o papel histórico das esquerdas no mundo, as suas ideias, a sua influência e a sua acção em prol do progresso e emancipação dos povos subdesenvolvidos no decurso do último meio século.
Por mais voltas que dê e estude os processos históricos na América Latina, em África e na Ásia, é-me difícil encontrar bons exemplos nas políticas nacionais e nos apoios internacionais que as esquerdas lhes propiciaram. Uma das bandeiras de luta contra a opressão imperialista foi a chamada revolução terceiro-mundista que sectores da esquerda radical no Canadá, na Europa e nos Estados Unidos glorificaram a partir dos anos de 1960. Todavia, se se for a ver os resultados práticos dessas lutas, marcadas acima de tudo pela demagogia e pelo sectarismo, o balanço final é pouco lisonjeiro. Tirante as descolonizações, a história do Terceiro Mundo pouco mais é do que um repositório de ditaduras e caos: sociedades fragmentadas, economias destruídas, espaços de cidadania dissolvidos, guerras civis, genocídios e pobreza. Nem Angola, a "vanguarda da revolução em África" que as esquerdas em toda a parte saudaram, teve melhor destino. Coberto de cores vermelhas e esmagado pelas intimidações do Exército e de um aparelho policial omnipresente, o país afundou-se ao som da Internacional e em projectos confusos de estatização.
O diagnóstico de Nikita Khrushchev sobre o socialismo na União Soviética de alguma forma serve para se poder comparar e analisar o que aconteceu noutras geografias políticas com ela aparentadas. Segundo ele,
[...] as portas deste país continuam fechadas e trancadas. Que espécie de socialismo é este? Que espécie de merda é esta, se temos de manter o nosso povo agrilhoado? que espécie de ordem social? Que espécie de paraíso?
 |
| Nikita Khrushchev |
As esquerdas alinhadas com o "socialismo" russo não fizeram caso destas palavras de indignação do ex-secretário-geral do PCUS, pois todas se recusaram a olhar de frente a realidade, mesmo depois do grande terror stalinista. Apenas uma pessoa ou outra mais lúcida percebeu a "mentira verdadeira" sob a qual ocultava o vazio ou a necrose daquele sistema político reduzido a um imenso aparato estatal burocrático, centralizado e fundido com a poderosíssima máquina do partido, responsável desde a década de 1930 pelo expurgo de comunistas e bolchevistas da velha guarda. A maioria, pelo contrário, preferiu deixar-se embalar no mito do paraíso socialista e aceitou a ideia de que aquele terror "representava [como Castoriadis bem assinalou] a forma mais avançada de democracia".
Outras esquerdas, com Sartre à cabeça, viraram-se para a China Popular e para o mito da Revolução Cultural de Mao Zedong e defenderam essa fúria criminal que deixou um cortejo de milhares de mortes, saques e humilhações. O mesmo Sartre com Régis Debray, este, então, um jovem marxista francês, ingressou nos anos de 1960 no "manicómio cubano" e ambos, em delírio, aderiram cegamente ao dogma e aplaudiram a mitologia revolucionária e sangrenta do seu líder, enquanto outros destacamentos esquerdistas abençoaram a ditadura sanguinária de Enver Hoxha, na Albânia (1944-1981) ou o regime de Pol Pot, no Cambodja.
Mas será este lastro radical e dogmático nas esquerdas coisa do passado? Se se observar atentamente o comportamento de determinadas correntes de esquerda - a não-democrática e a totalitária - percebe-se que ambas continuam a viver, em pleno século XXI, em busca de um tempo perdido. Os seus programas, a sua luta contras as desigualdades sociais, a sua concepção de política externa, dificilmente lhes abre espaços de diálogo e conciliação com outras tendências. Essas suas regressões autoritárias são frequentes, elas continuam a sonhar com revoluções violentas à boa maneira de Che Guevara, cuja pulsão pela morte dos inimigos, e até de adversários, se converteu efectivamente na sua marca registada. Ele exclamava: "Revolução sem disparar um tiro? Estás louco?"».
Carlos Pacheco («Angola. Um gigante com pés de barro e outras reflexões sobre a África e o mundo»).
Início da subversão violenta na África portuguesa
...Os principais obstáculos ao pleno êxito de todas as políticas expostas eram os territórios portugueses da África, a Rodésia e a África do Sul, que continuavam a constituir poderosos focos de irradiação da cultura e da influência europeias e eram ilhas de paz na desordem geral que assolava o continente.
Por isso, contra aqueles territórios se organizou uma campanha sistemática que culminou no desencadear da subversão violenta na Guiné, em Angola e em Moçambique, nas sanções contra a Rodésia, nas infiltrações de guerrilheiros no seu território e nas tentativas de introdução da subversão na África do Sul.
Com uma falta de visão confrangedora, os Estados Unidos da América e os outros membros da OTAN (mesmo os que possuíam interesses directos em África), em lugar de auxiliarem a preservar aquelas zonas de paz, quando não as hostilizavam directamente, tudo faziam para se não comprometerem com atitudes que pudessem ser interpretadas como de solidariedade e, abertamente, proclamavam a sua adesão aos princípios que, encobrindo os reais propósitos da campanha, eram usados para a justificar.
É certo que, no que respeita ao caso português, nos bastidores da política internacional havia quem nos animasse a prosseguir, e que, na maioria dos países da OTAN, os chefes militares estavam bem conscientes do perigo que representaria, para a defesa da Europa e do hemisfério ocidental, a perda das nossas posições e a subversão da Rodésia e da África do Sul.
Os políticos, porém, sujeitos à disciplina dos seus partidos, receosos das reacções da opinião pública, deformada por uma imprensa infiltrada por elementos das esquerdas, não tinham coragem de tomar atitudes claras e firmes.
Por isso, para os observadores superficiais e para o grande público, prosseguíamos uma política que ninguém apoiava, estávamos isolados. Não podíamos, para não comprometer os países amigos, desmenti-los. Assim se explica a célebre frase do discurso em que o Doutor Salazar afirmou que, orgulhosamente sós, prosseguiríamos na defesa das terras do Ultramar.
Mas se a situação era como se descreveu, não teria sido mais sensato aderir desde o princípio à corrente anticolonialista, deixando-nos conduzir pelos «Ventos da História»?
Foi este o grande problema que se apresentou em 1961 à consciência e à inteligência dos homens que detinham a responsabilidade do poder.
Era esta a grande opção sobre que tinham de decidir: continuar no Ultramar ou abandoná-lo, procurando apenas ressalvar os laços de natureza cultural e económica criados ao longo de cinco séculos de história comum?
Desde o século XV que o Ultramar constituiu uma constante na vida da Nação Portuguesa.
Acusarão certamente esta afirmação de constituir um lugar-comum, mas nem por isso deixa de ser verdadeira.
A expansão ultramarina faz parte da História de Portugal e deu ao nosso país um lugar na História Universal, com influência relevante na evolução da Humanidade e na formação do Mundo moderno.
Sem a expansão ultramarina, Portugal seria uma nação obscura, separada da Europa pela Espanha, independente se tivesse forças para resistir às acções absorcionistas que foram, e são, constantes nas aspirações espanholas e que conseguiram concretizar-se entre 1580 e 1640.
Terminada a expansão, foi sempre preocupação de todos os governos e regimes que mandaram na nossa terra manter o Ultramar, defender o Ultramar, desenvolver o Ultramar.
A tese do abandono, mesmo nas épocas mais conturbadas e difíceis da nossa vida colectiva, nunca foi aceite por nenhum governo como solução a adoptar para resolver problemas nacionais. Constituiu tema de lucubrações de alguns homens de letras, como Oliveira Martins, e pretexto para fácil ironia de outros, como Eça de Queirós. Foi esboçada por alguns políticos influenciados por aqueles e pelas especulações sobre economia, como as de Basílio Teles. Nunca constituiu, porém, programa de acção de nenhum governo e mesmo aqueles que algumas vezes defenderam a ideia foram, depois como Oliveira Martins, mais amadurecidos e esclarecidos, defensores estrénuos da continuação no Ultramar.
Após a Restauração, em 1640, depois da Revolução Liberal, no primeiro quartel do século XIX, depois da implantação da República, em 1910, todos os que se sucederam no poder, a braços com gravíssimos problemas políticos, económicos e financeiros, sempre consideraram seu dever prosseguir a política ultramarina que consideravam imposta pela História e pela vontade do povo.
A decisão mais grave em matéria de política externa no primeiro quartel deste século - a entrada na Guerra de 1914-18 - foi justificada pela necessidade de garantir a continuação do Ultramar.
 |
| Embarque de tropas portuguesas para Angola na Grande Guerra (1914-1918) |
As maiores manifestações de indignação ou de júbilo popular ocorreram a propósito de factos da vida ultramarina. Recordem-se, por exemplo, a reacção contra o Ultimatum inglês de 1890 e as manifestações que se seguiram à acção de Chaimite, comandada por Mouzinho de Albuquerque.
No plano exterior, a execução desta política não foi fácil porque sempre, com maior ou menor intensidade, contra ela se manifestaram e agiram outros Estados.
A politica externa portuguesa e a acção diplomática, seu instrumento, tiveram, por isso, sempre como fonte principal e constante de preocupação o Ultramar e a sua defesa.
Após a Restauração, os problemas mais importantes foram o da confirmação dos nossos direitos e a reconquista do que nos havia sido usurpado no Brasil, na África e no Oriente.
Durante a época liberal tivemos de enfrentar a trama subtil tecida pela Grã-Bretanha, com o pretexto fácil e hipócrita de repressão do tráfico de escravos, e desenvolvemos uma acção diplomática em que figuram as vitórias conseguidas nas arbitragens de Bolama e da Baía de Lourenço Marques.
No fim do século lutámos, no plano diplomático, para salvar as nossas posições da África contra as ambições expansionistas que tiveram expressão jurídica no regime aprovado pela Conferência de Berlim de 1885.
Depois da Guerra de 1914-18, a tese da função pública internacional dos territórios do Ultramar e a teoria do livre acesso às matérias-primas neles existentes, deram lugar a nova tentativa de esbulho.
Depois da Guerra de 1939-45, surge a corrente anticolonialista e a acção directa pela força contra a nossa presença em África.
É a luz destas constantes de pensamento e acção que tem de ser apreciada a decisão de defender o Estado da Índiacontra a política anexionista da União Indiana e a decisão tomada em 1961, quando eclodiu o terrorismo em Angola, de defender o Ultramar.
 |
| Brasão de Armas da Índia Portuguesa |
Quanto à Índia, a defesa tinha de fazer-se predominantemente no campo diplomático, dada a distância em relação à Mãe-Pátria e o enorme poderio do ambicioso vizinho.
Podia-se negociar a entrega voluntária, mas fazê-lo seria admitir um princípio que necessariamente teria implicações quanto aos outros territórios ultramarinos.
Teve de ceder-se à força bruta, mas, no campo dos princípios, os nossos direitos mantiveram-se.
Um alto orgão internacional - O Tribunal Internacional de Justiça -consagrou o seu reconhecimento na sentença que proferiu, em Abril de 1960, sobre a questão do direito de passagem para os enclaves de Dadrá e Nagar Aveli.
E, 1961, quando se tomou a decisão de defender Angola contra a subversão violenta, desencadeada com os acontecimentos de 4 e 5 de Fevereiro, em Luanda, e os massacres do norte, na noite de 15 para 16 de Março, praticou-se um acto de governo que se integrava na linha dos que sempre, em circunstâncias semelhantes, outros governos portugueses, das mais variadas orientações e matizes políticos, haviam tomado.
A pressão internacional para que cedêssemos também não constituía novidade na nossa História. Apenas agora a cedência, aparentemente, não seria a favor de nenhum Estado, porque era exigida em nome do direito de todos os povos à autodeterminação, mas entendida esta estritamente como independência.
Na realidade, porém, a política de abandono que de fora nos pretendiam impor teria, como nas outras fases da nossa política externa, propósitos de expansão, só que, agora, mais disfarçados porque faziam parte de uma política global, traduzida numa estratégia que não tem por objectivo adquirir direitos sobre territórios determinados, mas assegurar posições que permitam o domínio das grandes rotas marítimas, o acesso às fontes de matérias-primas, a posse de bases militares e a possibilidade de colocação de excedentes demográficos. Uma estratégia que não tem, portanto, objectivos de domínio sobre territórios determinados, porque visa a constituir grandes zonas de influência que assegurem posições de vantagem na luta surda entre as superpotências, com a qual se continuou a Segunda Guerra Mundial.
A decisão foi tomada, portanto, em presença de factores idênticos aos que em outras épocas da História, em circunstâncias semelhantes, se haviam verificado.
O Governo entendeu ser do seu dever restabelecer a ordem, defender os direitos da soberania nacional e proteger as populações pacíficas contra a agressão.
Em 1961 o País aceitaria outra decisão? Seria possível abandonar Angola à onda de violência que a assolou? Seria possível negociar? Com quem?
Havia quem sustentasse não ser possível encontrar para o problema assim criado uma solução militar, afirmando dogmaticamente que na guerra subversiva não é possível a vitória por meio das armas. Haveria, pois, que procurar uma solução política! Mas qual? Haveria que negociar! Mas com quem e com que fim?
Antes de responder, vale a pena gastar algum tempo a apreciar o valor do pretenso dogma de que, para a guerra subversiva, só pode haver soluções políticas.
Este tipo de guerra, como a convencional ou clássica, tem os seus teóricos e tratadistas, como Mao Tsé-Tung, Giap e Che Guevara.
A apreciação do valor da afirmação de que em guerra subversiva não é possível a vitória militar tem de se fazer evitando o emprego dos padrões da guerra clássica.
O que é a vitória e a derrota em guerra subversiva tem de ser apreciado em face das características deste tipo de guerra.
Considerar que a guerra subversiva só está ganha quando a guerrilha está completamente aniquilada é uma concepção própria da guerra convencional e conduziria ao absurdo de se ter de concluir que, em qualquer país, logo que surjam actividades guerrilheiras, o respectivo governo deverá considerar-se derrotado e ceder perante os chefes das guerrilhas.
Se assim fosse, onde estariam o Brasil, a Colômbia, o Uruguai, a Inglaterra, a França, a maior parte dos Estados africanos, que têm ou tiveram guerrilhas em acção no seu território?
Os mestres da guerra subversiva, de resto, fornecem-nos argumentos para combater aquela conclusão.
Segundo eles, a guerra de guerrilha («guerra de libertação», como a denominam) passa necessariamente por três fases: a guerra de guerrilha propriamente dita, a guerra de posições e a guerra de movimento. Estas duas últimas têm os caracteres da guerra convencional, com exércitos regulares e batalhas conforme as regras clássicas.
A primeira fase (guerra de guerrilhas) é definida por Che Guevara nos termos seguintes: «Morde, foge, embusca, espia, torna a morder e foge de novo, e assim por diante, sem deixar descansar o adversário». «Nesta fase, diz, o essencial para o guerrilheiro é não se deixar aniquilar» (E. CHE GUEVARA, La guerre de guerrilla, Ed. Maspero, 1966, pp. 24 e 26).
Giap definiu esta primeira fase, que considera a de guerra propriamente dita, nos seguintes termos: «A guerrilha é a guerra das massas populares de um país economicamente atrasado, lutando contra um exército agressor poderosamente equipado e treinado. Se o inimigo em determinada situação é forte, evite-se; se ele se apresenta fraco, ataque-se» (GÉNÉRAL GIAP, Guerre du Peuple, Armée du Peuple, Ed. Maspero, 1968, p. 44).
Ambos os autores citados consideram, porém, a guerrilha como uma simples fase da guerra que, por si só, não pode conduzir à vitória, a qual só poderá resultar da acção de um exército regular (CHE GUEVARA, ob. cit., pp. 20 e 21).
«No ponto de vista estratégico, diz Giap, se a guerrilha impõe numerosas dificuldades ao adversário e lhe inflige perdas sérias, todavia não pode desgastá-lo. Para poder aniquilar importantes forças inimigas e libertar o território, tem de desenvolver-se, progressivamente, em guerra de movimento» (Giap, ob. cit., p. 101).
A vitória, portanto, segundo estes dois práticos e teorizadores deste tipo de guerra, pertencerá às forças regulares que combaterem as guerrilhas, se estas não forem substituídas por exércitos convencionais que combatam segundo os princípios e as técnicas da guerra clássica.
Giap usou o método contra os franceses na Indochina.
Às operações de guerrilha seguiu-se a guerra convencional em que avulta o ataque a Dien Ben Phu, que marcou a derrota das tropas francesas.
Os ingleses, na Malásia e no Quénia, mostraram como é possível vencer e aniquilar guerrilhas.
O exército francês, na última fase da guerra da Argélia, estava à beira da vitória.
No Brasil e na Colômbia, as forças regulares limparam os territórios de grupos de guerrilheiros.
A guerra de guerrilha, só por si, não conduz, portanto, a nenhum resultado, disseram Che Guevara e Giap.
«Dizemos muitas vezes (escreveu este último): a guerra de guerrilha deve crescer e desenvolver-se. Para se manter e se desenvolver deve necessariamente conduzir à guerra de movimento, e isto é uma lei», ... «mas, se a guerrilha não se desenvolver e transformar em guerra de movimento, não só a tarefa de aniquilamento das forças inimigas não terá sido cumprida, como também a guerrilha não se poderá manter e desenvolver» (Giap, ob. cit., p. 102).
No nosso caso, também estas afirmações eram válidas e não podia o Governo, só porque se desencadeara numa pequena parte do território nacional actividades de guerrilha, assumir a responsabilidade de renunciar a direitos históricos, consagrados na Constituição e cuja discussão a consciência nacional nunca admitira.
Seria uma decisão de uma ligeireza e leviandade imperdoáveis, que o País não aceitaria, e que condenaria ao opróbrio quem assumisse a responsabilidade de a tomar.
Mas outras poderosas razões militavam em favor da opção de ficar e defender o Ultramar.
Repete-se: o País não aceitaria o abandono, e é evidente que nenhum governo digno desse nome aceitaria que em Angola, livremente, se continuasse a matar, a queimar, a destruir. Toda e qualquer decisão estava necessariamente condicionada pelo restabelecimento da ordem.
Mas não se poderia encontrar uma fórmula que, a seguir, se pudesse usar para estabelecer definitivamente a paz?
Temos na nossa História o exemplo do Brasil. Não seria inédito, pois, reconhecer a independência de Angola e torná-la responsável pelo seu próprio destino. A solução brasileira, porém, não poderia ser repetida nas condições do Mundo actual.
É que, no Brasil, foram os portugueses originários da Metrópole e os seus descendentes, chefiados por um príncipe da Família Real Portuguesa, que tomaram a iniciativa da proclamação da independência.
Foram, como no caso da Rodésia, os colonos brancos e os seus descendentes que a conquistaram, passando a deter o poder e a governar o novo Estado.
Em Angola estávamos perante uma rebelião de nativos numa zona territorial limitada, pertencentes a um grupo tribal bem definido - o grupo Bacongo.
Os seus chefes estavam no exterior. Os grupos activistas que lançaram a acção violenta vieram do exterior onde haviam sido preparados.
Entregar o poder aos colonos não resolveria o problema. A luta havia de continuar e com muito mais violência, pois não teria a moderá-la o poder fiscalizador da Metrópole.
Mas porque não negociar? De novo se pergunta: com quem? Com os chefes da guerrilha que, quando muito, podiam representar o grupo tribal a que pertenciam?
Cabem aqui algumas considerações acerca das estruturas sociais africanas, para se poder responder cabalmente à questão posta.
A organização terrorista que lançou a luta no norte de Angola foi a UPA (União dos Povos de Angola), chefiada por Holden Roberto, a qual se apresentava como movimento nacionalista angolano.
Em termos rigorosos, nacionalismo deriva de nação. Holden Roberto, portanto, reivindicava a representação da nação angolana. Mas, em Angola, como em qualquer território africano, não se pode falar em nação, no sentido rigoroso do termo.
Em África, o grupo social que mais se aproxima do conceito de nação é a tribo.
Quando se analisa a morfologia social dos vários territórios africanos (mesmo depois de adquirirem o estatuto de Estado independente), não se encontram comunidades que possam, com propriedade, integrar o conceito de comunidade nacional ou de nação.
A unidade aparente, meramente de superfície, que neles se verifica é, na quase totalidade dos casos, muito recente. Resultou da integração nos quadros políticos e administrativos criados pelos colonizadores europeus, que não anulou as particularidades tribais e os antagonismos deles resultantes, as variedades dos fenómenos dialectais e as diferenças de escalão cultural resultantes dos fenómenos de aculturação produzidos pelos contactos entre as culturas tradicionais e a cultura europeia.
Em sentido rigoroso não se pode, portanto, falar em nacionalismos africanos. Como qualificar então os movimentos pró-independência que surgiram e triunfaram em África, a partir do fim da guerra de 1939-45?
Em primeiro lugar, é de assinalar que tais movimentos foram provocados e auxiliados pelas políticas anticolonialistas da Rússia e dos EUA, que tiveram ampla repercussão na ONU.
Depois, tem de se ter em conta certas situações existentes e acções geradas nos territórios que evoluíram para a independência.
Para as analisarmos, tem de distinguir-se duas ordens ou categorias de africanos. Aqueles que conservaram, total ou parcialmente, os padrões das culturas africanas tradicionais, e os ocidentalizados ou europeizados, isto é, aqueles que adoptaram os padrões ocidentais ou europeus de cultura.
Quanto aos primeiros, tem de se reconhecer que a inexistência de uma consciência nacional não significa que não houvesse, nas massas tribais africanas, em face dos colonizadores, um sentimento de unidade por contraste.
O sociólogo francês Georges Balandier descreveu o fenómeno dizendo: trata-se de reacções confusas, de um comportamento à base de ressentimento que tende a atribuir a culpa a todas as perturbações e calamidades, dos povos e dos territórios, aos colonizadores.
Este tipo de reacção facilitava as infiltrações com fins subversivos. Em muitos casos, traduziu-se na criação de organizações de tipo político-religioso que algumas vezes revestiam carácter endémico. Foi o caso dos Mau-Mau, no Quénia, do Quimbangismo e da Kitawala no antigo Congo Belga.
A reacção dos europeizados ou ocidentalizados, ao contrário daquela, tendia a nacionalizar-se e a manifestar-se por intermédio de três tipos de organizações - os grupos de acção, os partidos políticos e os sindicatos. Os leadersdestes movimentos eram, quase sempre, nativos educados em estabelecimentos de ensino do tipo europeu (ou norte-americano) e, com muita frequência, de nível universitário. Tiveram a experiência de lutas políticas na Europa e na América, muitos deles frequentaram cursos de formação marxista na Rússia, nos Estados satélites e na China.
Foram eles que arregimentaram os nativos das cidades para a luta contra os colonizadores. Nos meios urbanos é que se constituíram os grupos, os partidos, os sindicatos e se recrutaram os quadros para as lutas políticas.
Quanto aos nativos dos meios rurais (que constituíam a maioria e continuavam integrados nas tribos), foram usados meios de propaganda adequados à sua situação cultural, para os associar aos sistemas de enquadramento e de acção anteriormente descritos.
Uma vez conquistado o poder, passada a euforia da propaganda que prometia com a independência todas as benesses que transformariam os territórios em Eldorado, surgiram as dificuldades.
As populações julgavam-se libertas de todas as obrigações. Não queriam pagar impostos, não aceitavam o trabalho. Surgiram as rivalidades entre os vários grupos políticos, ressuscitaram as divisões tribais. Surgiram as amotinações, os pronunciamentos, as guerras entre tribos. A desordem endémica, em suma.
 |
| Luanda |
Estas consequências da falta de verdadeira unidade nacional nos novos Estados africanos foram drasticamente combatidas. Quer dizer: os seus novos leaders, postos perante o dilema de se manterem fiéis aos slogans de propaganda de que a independência era a sequência natural de uma autonomia cultural de tipo nacional, ou de repudiar as suas consequências lógicas, pelo menos no que respeitava às estruturas sociais típicas, não hesitaram.
Para assegurar a unidade, por toda a parte o tribalismo foi combatido e instituíram-se regimes de tipo ditatorial apoiados em partidos únicos sujeitos a uma disciplina férrea.
Não se hesitou em recorrer aos meios mais violentos para eliminar as oposições. A língua do antigo colonizador foi imposta como língua nacional.
Muito mais haveria a dizer a este respeito, mas não pretendo fazer a análise completa do processo das independências africanas, antes apenas extrair dos seus aspectos sociológico-políticos mais relevantes a lição necessária para o caso português (in O Ultramar, a Nação e o "25 de Abril", Atlântida Editora, Coimbra, 1977, pp. 13-24).
Continua
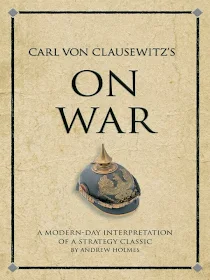
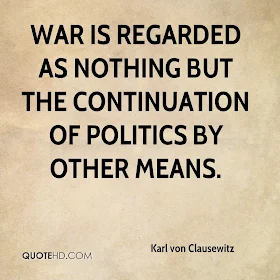






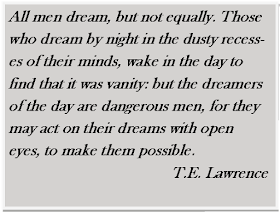





























































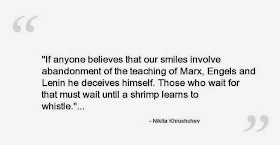
















Sem comentários:
Enviar um comentário
MTQ